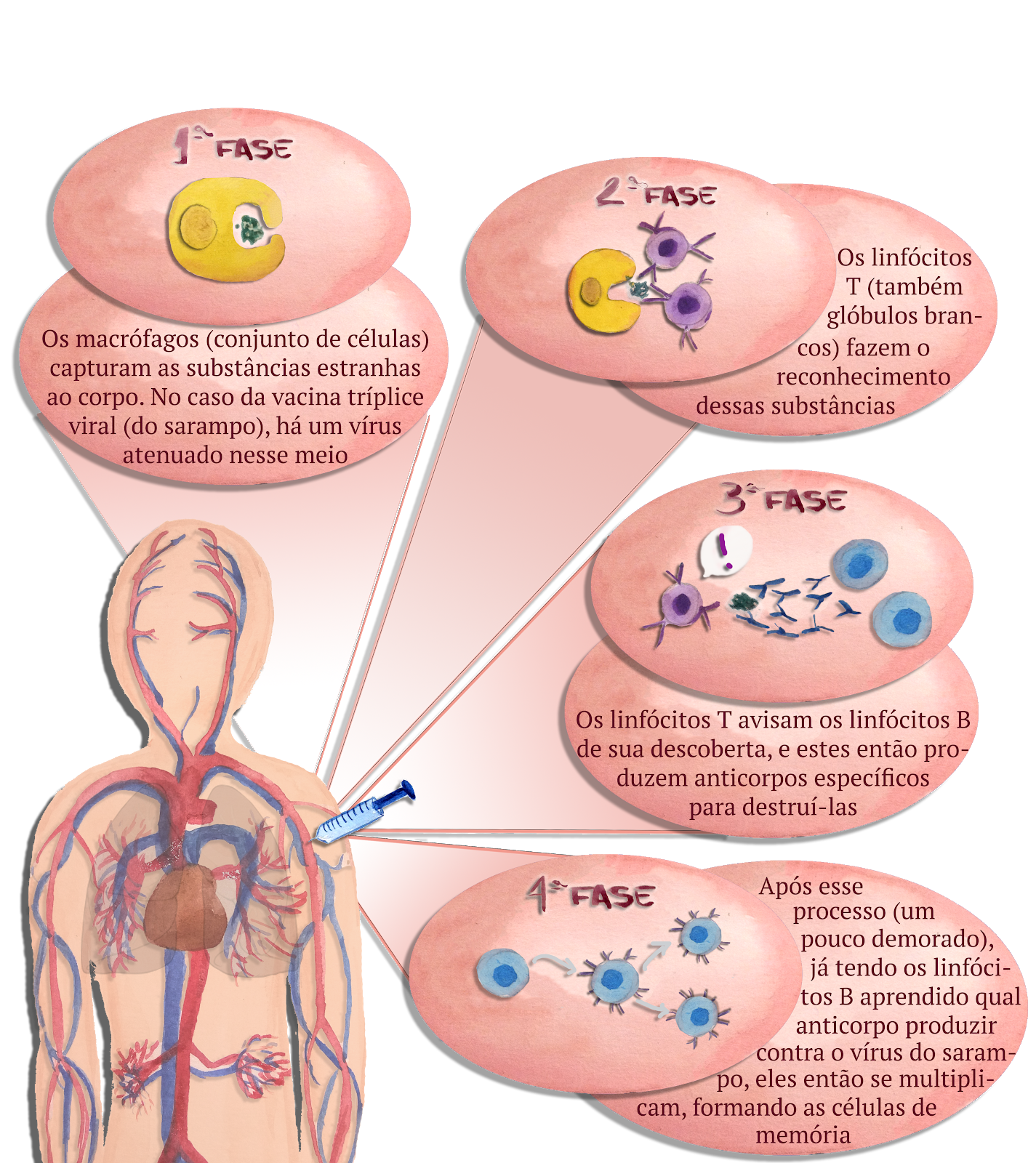Por Lígia de Castro
Na USP seria um tanto difícil. Embora sempre exista alguém que desvia da regra, encontrar um uspiano verdadeiramente antivacina (inclusive do movimento) seria improvável — para não dizer estranho. Resolvi então procurar explicações lá fora. Visitei a Paulista, mas desisti só de olhar o movimento: precisava de um público mais diverso. Sabia, ainda bem, onde encontrá-lo: o Butantã (especificamente o seu metrô) recebe gente de todo jeito, de todo tipo, e por isso decidi começar minha pequena pesquisa de campo por ali.
O que eu queria, afinal, era encontrar alguém em carne e osso que me explicasse o porquê desse envolvimento emocional (ou quem sabe racional?) com algo tão anticientífico. Já sabia de algumas possíveis respostas: o medo das reações das vacinas; os boatos da internet; um certo artigo inglês publicado em 1998 (fraudulento) que relacionava vacinação a autismo. Mas conversar pessoalmente é sempre diferente — leva embora especulações.
Para a minha decepção e alegria, no entanto, mesmo depois de 16 entrevistas não encontrei ninguém que de fato fizesse parte do movimento.
A questão é que esse resultado já devia ser um pouco esperado. Conforme publicou a Superinteressante recentemente, na matéria O novo obscurantismo, o movimento antivacina não é forte no Brasil. Pode até estar crescendo, mas essa não seria a razão, afinal, de epidemias antigas se tornarem novidade em São Paulo e também no resto do país. A cobertura vacinal de fato diminuiu de uns anos para cá, segundo o Ministério da Saúde — de 2014 para 2017, a cobertura da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) caiu de aproximadamente 100% para 85%. Mas a chave para entender isso não estaria em movimentos como o antivacina, e sim em algo talvez até mais difícil de se lidar: o descuido e talvez falta de acesso da população.
De fato, pelo menos 5 das 16 pessoas que entrevistei não se vacinavam com frequência. Quatro delas, ao contrário de terem qualquer desconfiança em relação às vacinas, disseram a mim que o faziam por “falta de atenção”, “ignorância”, por “não gostar de injeção”, e em um dos casos porque ela “tinha a saúde muito boa e não tinha casos na família”. Sem contar uma entrevistada que disse que se vacinava com frequência e, quando lhe perguntei qual tinha sido a última vez, ela respondeu “2003”.
Mais por descaso do que por convicção, portanto, deixam as pessoas de se vacinar no Brasil. E, segundo uma enfermeira que entrevistei nesse processo, também não por uma questão de classe. “As mães mais carentes vacinam seus filhos. Trabalhei em posto de saúde por muitos anos, e via diariamente o interesse delas em acompanhar a vacinação de seus meninos”.