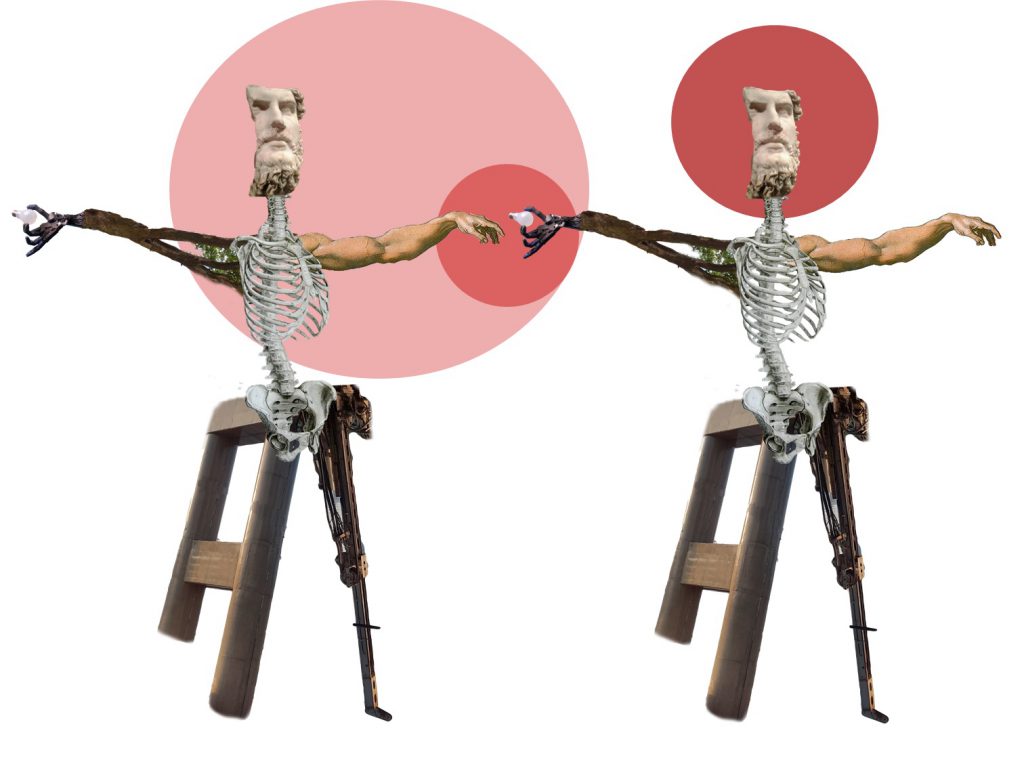 Texto e fotos: Raphael Concli
Texto e fotos: Raphael Concli
Montagem: Lucas Almeida
“Professor, mas pra que serve isso?”.
A pergunta é clássica, todo mundo já se fez pelo menos uma vez ao longo da vida escolar. Mais difíceis são as memórias de boas respostas.
A cena é clara: uma criança ou adolescente diante de uma lousa coberta de incógnitas e fórmulas que lhe dizem pouco, esperando a hora da frase mágica ou musiquinha criada pelo mestre para facilitar a decoreba. Enquanto isso, nossa boa pergunta – afinal, pra que serve aquilo? – segue se dissolvendo numa bateria de exercícios de condicionamento mental.
Pra que serve é a mais justa das perguntas. E não é um problema que seja motivada tantas vezes pelo simples saco cheio de um aluno fazendo algo que não quer numa hora que não quer.
Há uma demanda muito razoável ali: por que raios tenho de gastar meu tempo com isso? O que esse aprendizado me diz do mundo? Quais as razões para se saber isso? A resposta ignorante ou autoritária costuma passar por cima de tais inquietações e devolver ao aluno a simples imposição de adaptação. A escola é assim, o vestibular é assim, adeque-se.
A falta de reflexão sobre os propósitos do aprendizado, suas aplicações e seu lugar na história de um campo do saber não são problemas exclusivos do ambiente escolar – tampouco da matemática. A Universidade muitas vezes continua sendo o espaço dessa mesma lógica conteudista e mecânica.
Quantas vezes um universitário não se viu em situações semelhantes, quando o aprendizado de um conteúdo se justifica pela simples autoridade institucional do professor e da própria universidade?
Dissolvido em todas as áreas e cursos, este é um problema pedagógico e de formação fundamental que, arrisco dizer, deve ser um dos fatores centrais da desmotivação e desânimo de estudantes com seus próprios cursos.
Isso atinge também um dos valores caros à universidade: a colaboração entre áreas. Há diversas maneiras disso ocorrer, como explica o professor de filosofia Ivan Domingues. A multidisciplinaridade pressupõe diversidade de disciplinas dadas num contexto, mas sem que haja necessária integração entre elas; a interdisciplinaridade envolve a cooperação entre as disciplinas, tem natureza integrativa. Há ainda a transdisciplinaridade, que pretende romper as próprias barreiras e limites entre áreas.
Mas como esses modelos de colaboração se dão na prática, em especial nos cursos de graduação, onde novas formas de estudar, diferentes da escola, começam a se construir?
É fundamental a existência de disciplinas de outros campos do saber em qualquer graduação, mas deve-se levar a sério a possibilidade de colaborar e se articular com a área de formação do aluno. É preciso estabelecer pontos de contato, criar pontes entre as áreas e não enxertos disciplinares mal articulados.
Um ponto fundamental, a pedra de toque dessa colaboração disciplinar me parece a seguinte: ampliar o olhar do aluno sobre sua própria área para que ele a perceba como algo mais que um saber específico, notando sua inserção não apenas entre as ciências e saberes, mas também como sua área se insere em contextos sociais concretos. A partir disso, uma capacidade central pode ser construída: dar ao aluno o poder de formular perguntas sobre sua própria área a partir de outras.
Afinal, de que vale apresentar conceitos genéricos se não me ajudarem a pensar minha área de novas formas? É preciso perceber então quais são os modelos e procedimentos problemáticos da colaboração disciplinar. Tento apontar alguns deles.
O primeiro é o curso genérico de manual. O manual é aquele livrão que resume o básico de uma área. Mastiga os conceitos, simplifica a linguagem, acelera o caminho. É um atalho. Mas veja, o manual não é um mal em si. Há boas publicações desse tipo, que facilitam o acesso a textos originais e apresentam os problemas com os quais determinada disciplina lida.
Por outro lado, o manual promove uma instrumentalização que pode ser útil e frutífera, contanto que haja alguma articulação com problemas que efetivamente interessem ao estudante. Agora, se servir apenas para uma introdução genérica de uma área, ou pior, para uma decoreba de nomes e conceitos, qual o sentido de sua aplicação?
O reverso do manual seria o acesso a textos originais da própria área. Porém, esse procedimento por si mesmo não é solução. O risco da densidade sem propósito é alto. Se, de novo, ignara-se a possibilidade de articular essas leituras com problemas da área de formação do estudante, é tempo perdido.
Introduções genéricas correm o risco de serem apenas um be-a-bá estéril, conteudismo despropositado, assim como a densidade sem propósito pode descambar para um eruditismo vazio. E qualquer um desses modelos pode iludir o estudante sobre a possível aplicação imediata e artificial de conceitos ao mundo, ignorando o contexto de questões que os fizeram surgir.
Vejamos: se não sou um estudante de filosofia, para que diabos eu precisaria saber o que é a noção de “imperativo categórico” do filósofo Immanuel Kant e na aula seguinte pular para a noção de “piedade” em Rousseau? Isso permite compreender os problemas com os quais esses pensadores lidavam? Mais ainda: são problemas que interessam a minha área? Como curiosidade cultural, vá lá. Numa mesa de bar, você não passará vergonha se esse tipo assunto surgir. Mas se por acaso você estiver num bar, o céu estrelado sobre você, e te cobrarem o que é “imperativo categórico”, troque de mesa.
As humanidades têm um poder especial de trazerem questões mais amplas, o que exige que se combata a postura xucra de tomá-las como perfumaria. Mas todas as áreas do saber podem colaborar umas com outras – e qualquer uma não passará mesmo de perfumaria barata se for mal aplicada.
Mais interessante é construir cursos com temas articulados à área fundamental de formação. Como fio condutor dessas discipliinas, deve haver um histórico de problemas e noções mobilizadas para pensá-los. Na USP, iniciativas como a humanização da grade do curso de Medicina parecem um caminho interessante.
Alguns exemplos simples de questões podem ilustrar outras possibilidades. Quais modos diferentes existem de se calcular a desigualdade econômica? Como uma concepção de saúde centrada no corpo masculino interferiu no desenvolvimento da medicina sobre a saúde da mulher? Como o desenvolvimento tecnológico produz novas formas de relação de trabalho? Há de fato neutralidade no desenvolvimento técnico e científico? O que é esfera pública, e como sua transformação ao longo do século XX interfere na forma de se consumir informações?
São temas trabalhosos. Mas a falta de compreensão de como outras disciplinas operam, e como podem nos ajudar a formular questões nos faz permanecer travados numa perspectiva reducionista do conhecimento, não nos livra de questões ingênuas e nos mantém reféns de ilusões de grandeza de nossa própria área.
Pensar a colaboração disciplinar nesse sentido exige que o professor seja um mediador entre áreas e, sobretudo, uma espécie de curador de obras e questões. Os caminhos fáceis do enxerto disciplinar, do panoramão histórico vazio, da densidade sem propósito, talvez sejam mero desperdício de energia.
Reivindicar uma articulação mais frutífera entre áreas não deve parecer, afinal, nenhum absurdo. É apenas procurar que a universidade faça o que surgiu para fazer.
